

Existe em vários países a temporada de caça. No Brasil, a permissão aplica-se unicamente ao Rio Grande do Sul. São aqueles meses liberados aos que apreciam a “nobre arte cinegética”, que consiste em localizar nos ambientes ainda selvagens os bichos que neles vivem, e abatê-los à tiros.
Tendo sido o esporte preferido de reis e potentados em geral, a caça recebeu a classificação de nobre, e, mais ainda, mereceu o entendimento de que a sua prática, além de ser aristocrática é também uma arte.
Luiz XVI, antes de ser preso e ter a cabeça decepada pelo machado do carrasco Sanson, gastava quase todo o seu tempo cavalgando pelas florestas nos arredores de Versailles e Paris, em infindáveis caçadas. Recentemente, o rei da Espanha Juan Carlos, perdeu o trono, tendo de abdicar em favor do seu filho após o escândalo causado pela foto em que apareceu ao lado de um elefante, por ele abatido na África. Caçar, assim com C e a cedilha, deixou de ser algo charmoso, que conferia ao caçador uma condição de destaque social, e aos nobres o privilégio até de invadir domínios alheios, se aqueles, reservados à Coroa, não mais lhes satisfizessem
Já o ato de cassar, assim, com dois esses, não é privilégio, nem tampouco uma arte, apenas, uma prerrogativa concedida a uma determinada espécie de burocratas que, tanto podem conceder como podem cassar licenças, direitos, reais ou presumidos, taxas, multas, licenças, outorgas, emolumentos. E por ai vai. E há uma outra espécie, bem acima do simples manejador de carimbos, ou antigos amanuenses, que têm, e apreciam utilizar-se da prerrogativa tanto de homologar como de cassar mandatos eletivos, os quais, como se sabe, resultam do sucesso na árdua disputa pelo voto.
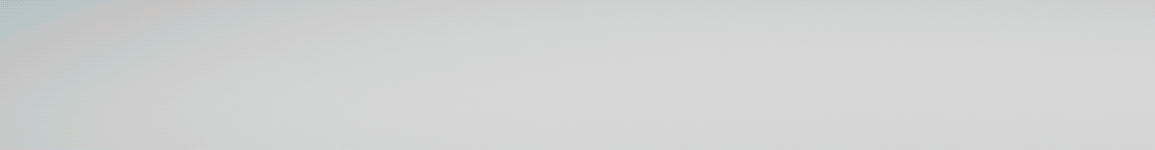
Quando se cassa um mandato, cassa-se também o voto, a vontade de cada um dos que deram ao candidato o direito a representá-los num prazo pré-determinado.
A conquista do direito ao voto é uma das páginas mais exuberantes na luta pela civilização e pela cidadania. O voto feminino somente consolidou-se no Brasil na breve Constituição de 1934, que vigorou até 37, quando Vargas criou o Estado Novo, e nele não se falava mais em voto popular. O voto para o analfabeto, foi uma outra longa novela. Fato curioso, dois presidentes, um, João Goulart, eleito, quis instituir o voto para o analfabeto, mas foi deposto; já o presidente que o sucedeu pela força, o marechal Castello Branco, tentou também conferir o direito ao voto para o iletrado, mas o Congresso Nacional rejeitou a ideia. No Império, com noventa por cento de analfabetos, entre eles os barões que possuíam bens e tinham renda, e por isso o direito de votar, não poderiam ser impedidos por não saberem ler e escrever, e assim, eram eleitores.
Todavia, em 1881, antes da República, portanto, entrou em vigor aprovada pelo Congresso Nacional a Lei Saraiva, que vedava o voto ao analfabeto. O relator do projeto foi o jovem deputado Ruy Barbosa que alegou: “Escravos, mendigos e analfabetos não devem votar porque carecem de ilustração e patriotismo e não sabem identificar o bem comum”.
Quando João Goulart e depois Castello Branco, tentaram, sem sucesso conceder o voto ao analfabeto, metade da população brasileira era iletrada, mas, o mesmo presidente do regime de força que defendia o voto para quem não sabia ler nem escrever, era o mesmo que tolerava a prisão de dezenas de jovens que se empenhavam, justamente, em alfabetizar as pessoas através do Método Paulo Freire, considerado um instrumento de subversão.
Hoje todos votam, desde que tenham mais de dezesseis anos e estejam habilitados pela Justiça Eleitoral.
Votam, entendendo que a escolha virá a ser respeitada, e os eleitos cumprirão sem obstáculos os seus mandatos.
Quando a prática de cassar mandatos se torna corriqueira, quem vota fica a se perguntar o que representa mesmo a sua escolha, e se valerá a pena retornar nas próximas eleições para cumprir o chamado “dever cívico”, que , por sinal, entre nós é obrigatório, dada à importância que o Constituinte confere ao voto popular, como instrumento indispensável à democracia.

Antes de tudo a cassação de um mandato é um desrespeito ao eleitor.
Mas então haverá quem diga: “E não seria desrespeito maior a presença de elementos indignos nos parlamentos, na chefia de poderes executivos?
Sem dúvidas a pergunta se faz consistente.
Há, todavia, um aparato de Estado capaz de cuidar, preventivamente, para que o eleitor não venha a ter entre as opções que lhe são oferecidas durante a campanha eleitoral aqueles que maculariam o mandato por serem fichas sujas.
E esse aparato é representado exatamente pela Justiça Eleitoral, onde se inclui o Ministério Público. Essa Justiça específica é responsável pela modernidade que permite os resultados imediatos da apuração dos votos. É coisa que países líderes em tecnologia não conseguiram fazer com a mesma celeridade que se tem no Brasil.
A mesma presteza que exibe na contagem de votos, a Justiça Eleitoral deveria ter para barrar o acesso de malandros ao seleto grupo dos candidatos, e providenciar para que a entrega formal do diploma aos eleitos fosse o reconhecimento final e definitivo da plena legalidade do mandato.
No Brasil, onde tanto se propala a necessidade da segurança jurídica, imagina-se, talvez, que o eleito e diplomado não venha a merecer esses mesmos cuidados respeitosos em relação a plena segurança do seu mandato. É obvio que não se quer fazer do mandato um cobertor de segurança para a prática de ilicitudes, mas, uma coisa é o desrespeito ao mandato por parte de políticos indignos, outra o que o mandato em si representa para o exercício da democracia, para a harmonia entre os poderes.

Nessa ânsia de cassar inexiste qualquer dosimetria sensata para a aplicação da pena. É comum um episódio possível de transgressão à lei eleitoral que poderia ser corrigido com advertência, multa, ou, no extremo a suspensão de direitos políticos, ser transformado no absurdo da cassação do mandato, nessas temporadas de cassações que no fundo caracterizam uma aversão à própria atividade política, uma ideia muito superficial do que representa o mandato eletivo, e, sobretudo em relação à independência e harmonia dos poderes, preceito constitucional básico e tão desprezado.
Além da insegurança jurídica causada por essas temporadas de cassa aos mandatos, se aguça o conflito no próprio poder judiciário, entre as visões meramente punitivas, e aquelas mais apegadas à exegese constitucional, que impõe a obediência aos ritos, e clarifica o modus vivendi entre as instituições, para que uma não venha a atropelar a outra, e muito menos derrapar no personalismo autoritário.
Uma outra avaliação poderia ser feita de forma pragmática: Não havendo crime tipificado no código penal , não havendo abuso de poder econômico, sequer dúvidas a respeito da origem de recursos utilizados nas campanhas, ou a indefinição resultante de apurações imprecisas, seria útil e proveitoso do ponto de vista social e econômico, gerar tumultos, desconstruindo mandatos executivos, cujas responsabilidades se confundem com o bem estar da sociedade?
Sabia-se, faz tempo, que cassar presidente era prerrogativa do Congresso Nacional, cassar governadores era competência das Assembleias Legislativas, e cassar prefeitos era papel reservado às Câmaras de Vereadores.
Pelo menos é isso é o que se pensava, até que surgiu a Justiça Eleitoral empunhando a borduna para cassar mandatos dos que a própria justiça, antes, conferira um diploma, que seria o atestado de lisura. Agora, se sabe: o diploma é apenas um reconhecimento a título precário, podendo ser revogado a qualquer momento, a depender dos humores de quem tem poderes para caçar “crimes eleitorais” e cassar mandatos, algo que se imaginava sólido e estável, e de um momento para o outro se desmancha no ar.

